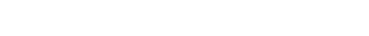-
16Oct2000
- share:
-
Promúsica
por Rui Eduardo Paes, Out 2000 (Lisboa, Portugal)
És dos poucos músicos que recorrem ao computador que não utilizam um Mac e sim um PC. Alguma razão especial para isso?
Ah, finalmente! Vou comprar um G4 e livrar-me desta infernal “Gates-machine”. Os Macs eram muito caros, só isso. De resto, entre uma ferramenta de trabalho a sério e um electrodoméstico, a escolha é simples…
Se não usasses o computador, a tua música seria muito diferente do que é?
O âmbito estético seria exactamente o mesmo, mas não me seria possível ter um grau de precisão tão grande em relação a decisões composicionais e formais. Seria obrigado a ser menos exigente.
Tanto quanto me apercebo, só utilizas o computador na fase final do processo da criação de uma peça musical. Antes disso, julgo mesmo que recorres, sobretudo, a tecnologia analógica, desde os pedais de efeitos da guitarra até à tua recente “descoberta” do sintetizador modular e do theremin. Aproveita para me falares sobre o material que utilizas e porque o escolheste.
Não é bem assim: uso o computador em práticamente todas as fases, excepto a criação do material sonoro. O computador – já agora apresento, um Celeron 266 com um velho Digidesign Session 8, que trabalha há 8 anos sem falhar – é uma bancada de trabalho, onde faço todas as operações de composição. É apenas uma ferramenta, não tem qualquer participação no processo criativo. De resto, produzo todos os sons no domínio analógico, claro.
O meu sistema modular (não lhe chamo sintetizador) é principalmente composto por módulos de processamento e de controlo, ou seja, é como se tivesse uma selecção de pedais ultra-sofisticados e infinitamente reconfiguráveis, é sem dúvida um dos principais componentes do meu equipamento. Tem geradores de random, LFOs que vão desde 1 ciclo em 5 minutos a 400 Hz, um vocoder modular com bandas intermutáveis, vários filtros (LPF), ring modulator, VCA, phaser, e até módulos de theremin com os quais posso controlar quaisquer dos outros…
Uma peça da qual nunca me separo é o velho sintetizador de guitarra Korg X-911, do qual uso exclusivamente o filtro e a distorção – os sons sintetizados são horrorosos. Alguns pedais preferidos são o Analog Delay Boss, o Whammy Digitech, que uso muito para gerar batimentos entre frequências, o Phaser Mu-tron… 2 delays digitais Digitech, que não são grande coisa, um equalizador paramétrico de 4 bandas Ashly, também com uso importante… e mais uma série de coisas acumuladas ao longo dos anos. Uma pequena Mackie de 12 vias á um auxiliar precioso. As guitarras principais são a Fender Jaguar e a Roland G-707.Neste contexto, o que pensas da questão digital versus analógico?
Para mim, essa é simplesmente uma questão poética.
Acho uma maravilha que toda a complexidade dum sinal audio seja representável apenas com zeros e uns, a quantidade de informação e o volume de trabalho conseguido em tempo útil por um computador tem em si algo de poético. Mas a poesia que há em circuitos electrónicos que estão a trabalhar não com uma representação em código binário mas com exactamente os mesmos fluxos de electrões que foram produzidos por uma guitarra, é muito mais profunda. As variações de sinal eléctrico que há no interior dum circuito são exactamente análogas (daí o termo) às geradas no “pickup” de uma guitarra ou na membrana de um microfone. No domínio analógico não há representações, trabalha-se com a electricidade viva, com um sinal verdadeiro e original. Todos os condensadores, resistências, transístores e transformadores estão verdadeiramente a trabalhar com o sinal eléctrico, a executar uma função, enquanto os integrados de um computador fazem sempre o mesmo: descrições exaustivas de tudo o que se passa, cálculos e instruções infindáveis… é muito mais sombrio e burocrático.De modo geral, gravas uma improvisação tua e depois trabalhas essa gravação no teu estúdio pessoal montas, processas, misturas, alteras. De tal maneira, aliás, que a maior parte das vezes, os sons e o(s) instrumento(s) originais ficam irreconhecíveis. Descreve-me mais pormenorizadamente o teu método de trabalho.
Para mim compor começa por estabelecer um contexto tecnológico (uma selecção de equipamentos e como são usados) e dotá-lo de uma abordagem estética muito específica. Normalmente, ao contrário do que sugeres, os sons que crio assumem a sua identidade nesta fase (saem logo “irreconhecíveis”), no computador faço principalmente operações de colocação de sons, observo densidades e realizo misturas, e uso-o como plataforma para conservar o material em vários estados. Em geral, gravo um ou mais “takes” paralelos com processamentos diferentes ou outros sons complementatres, até que tenho uma massa sonora densa da qual tenho que extrair algum sentido de forma. A partir daí, com imenso cuidado e paciência, vou retirando tudo o que está a mais, geralmente apago alguns 80% do material gravado, até que só fica o essencial. Foi assim que fiz o “Wave Field” e é o processo que tenho usado para o novo “Violence of Discovery and Calm of Acceptance”. É um trabalho muito laborioso. A música muitas vezes soa fluida ou etérea, mas está cheia de montagens feitas com precisão atómica.
Desenvolves uma actividade paralela como produtor, sobretudo de bandas rock, área em que não te movimentas desde a tua saída dos Pop Dell’Arte. O que me leva a perguntar-te várias coisas. Uma: o que te interessa nos grupos que produzes (diz quais são) que te leva a desempenhar essa tarefa? Outra: os processos e os princípios que utilizas quando produzes um grupo rock assemelham-se aos que aplicas às tuas próprias composições ou os critérios são diferentes (sejam ou não, explica porquê)? Por outras palavras: até que ponto “impões” os teus conceitos a esses grupos, como se essas produções fossem extensivas do teu próprio trabalho criativo?
Tina and the Top Ten, Supernova, Toast, Clockwork.
Apaixonei-me por todos eles. Por um lado, há um lado de apoio técnico, ou seja, um conhecimento sobre as técnicas que permitem certos resultados estéticos. No caso dos Tina, havia uma cumplicidade artística muito grande e no caso dos Clockwork havia uma clara afinidade estética. Normalmente tento trazer um certo sentido de unidade ou de visão a um trabalho. Os grupos que se interessam pelo meu trabalho interessam-se
por aquilo que eu lhes posso “emprestar” da minha identidade sónica. Outras vezes há divergéncias e aí encontra-se um equilíbrio. Há um lado humano muito delicado e difícil de lidar, um grupo tem personalidades diversas e há que manter um espaço livre á volta suas opções. Os processos são diferentes, claro, o material de origem e os objectivos são diferentes. Em comum com o meu trabalho há uma atitude (muitas vezes subversiva) e um sentido estético.As tuas peças musicais são muito produzidas, para além de serem obras de engenharia de som. Nalguns casos, poder-se-ia mesmo achar que são “over-produced”. Esse não é um risco que corres?
Não, de modo nenhum. Aliás, o recente “Aeriola Frequency” é um trabalho extremamente cru. Mas em geral, só descanso quando tenho a certeza que uma peça está perfeita. Perfeita para mim significa que não lhe encontro nenhum defeito nem nada que possa melhorar e que está conseguida a nível técnico, conceptual e poético. Encontro sempre problemas para resolver, de várias ordens, e a certa altura não há mais nada para fazer. Esse momento é sempre muito claro.
Já foste conotado com o ambientalismo à maneira de Brian Eno, com o noise rock dos Sonic Youth ou dos seus elementos a solo e ainda com o pós-minimalismo de um Phill Niblock, mas recentemente tens sutgido em contextos ligados ao chill out e à “club culture”. Explicas-me este teu interesse pelo lado mais “soft” do techno?
Não é bem um interesse… Estás a falar da minha participação no Boom Festival e no Houseware Experience, e em ambos os casos fui convidado por pessoas que acharam que a minha sensibilidade se adequaria aos eventos que produziram. Apenas estive disponível e encontrei um modo de me relacionar, mas não o procurei. Portanto, não estou a sair do meu caminho nessa direcção. Não tenho um grande interesse pelo “chill-out” porque é um tipo de música com uma função demasiado específica e feita para ser fruída num contexto também específico.
Parcerias com músicos das primeiras linhas da “cena alternativa” como Jim O¹Rourke, Thurston Moore (Sonic Youth), Rhys Chatam ou Phill Niblock projectaram-te a nível internacional presentemente, fazes mesmo parte da MIMEO, a orquestra electrónica europeia que reúne nomes da craveira de Keith Rowe, Peter Rehberg, Fennesz ou Thomas Lehn. Tendo em conta que a tua música é muito pessoal e feita solitariamente, no teu estúdio doméstico, o que tens ganho com estas colaborações? Até que ponto são elas importantes para ti, ou trata-se de meros “desvios”? E até que ponto esta súbita fama atrapalha a tua maneira lenta e estudada de trabalhar?
A imprensa tem esta ideia fixa de que eu ter estabelecido relações com pessoas conhecidas me tornou súbitamente famoso. É muito errado. Não aqueceu nem arrefeceu ninguém eu ter tocado com essas pessoas todas. O que me projectou internacionalmente foi o meu próprio trabalho, nomeadamente a reedicção do “Wave Field”. Se colaborei com estes músicos, é porque houve interesse mútuo. Alguns convidaram-me, outros convidei-os eu, mas músicos que tocam juntos tratam-se entre iguais, não existe essa coisa de uns serem mais famosos do que outros. Colaborar com outros músicos é saudável e enriquecedor. De resto, trabalhar em estúdio e ao vivo são coisas muito diferentes e que se complementam.
Tornaste-te num valor emergente da nova electrónica não-erudita. Em última análise, porquê a electrónica (uma consequência apenas de o teu instrumento principal ser/ter sido a guitarra eléctrica ligada a dispositivos electrónicos?). O que te atrai nela enquanto via musical, em oposição à música acústica, se é que esta existe num tempo, como o nosso, em que a apresentação da música às audiências implica a amplificação, logo, a electrónica?
A amplificação da música “acústica” não prssupõe uma interferência da electrónica, acho que essa questão não existe. Quando a música está convertida em energia eléctrica, a sua maleabilidade é imensa, logo as possibilidades de aproximar qualquer realidade sonora a uma visão estética radical são muito maiores. A electrónica permite “mergulhar” no interior de um som e trabalhar com o que está lá dentro – todas as nuances do espectro, os harmónicos, a forma de onda, a fase, o tempo… e é desse interior dos sons que eu faço música, portanto nem tenho escolha. Com os instrumentos acústicos não há “desvio” possível, porque a sua energia nunca é convertida, as ondas viajam pelas partículas de ar tal como foram produzidas e só lhes resta baterem nas paredes umas tantas vezes – o que, diga-se, também é maravilhoso.
Share the love
Related
-
16Oct2000
- share:
Search
Upcoming Concerts
There are no dates yet.
About
Rafael Toral (Lisbon, 1967) has been exploring the connection between sound and music since he was a teenager. He pioneered blends of drone minimalism with rock as in Wave Field, the free-jazz inspired experimental electronics of the Space Program, and has recently synthesized all the above on guitar-based Spectral Evolution (Feb. 2024), his new major album.
©
2023 Rafael Toral. All Rights Reserved.