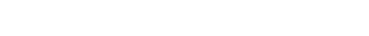-
18Mar2004
- share:
-
Blitz
por Gonçalo Palma, Mar 2004 (Lisboa, Portugal)
Entrevista no âmbito do trabalho “20 Anos, 52 Personalidades”, comemorativo do 20º aniversário do Blitz. Foi publicado um artigo baseado nesta entrevista.
RADIOGRAFIA
1 – Qual o seu nome completo?
Rafael Alexandre Toral.2 – Data e local de nascimento?
19 de Agosto de 1967, Lisboa.3 – O que o levou a ser músico?
A vontade de participar em algo que envolvesse uma ressonância emocional tão forte como a que sentia com a música que ouvia. Também o desejo de materializar música que tinha na minha cabeça mas que não ouvia em lado nenhum.4 – Qual é para si o grande símbolo cultural dos últimos vinte anos?
A Rede. A internet teve um efeito enorme no nosso modo de viver e percepção do mundo. Não encontro nada cujo impacto seja comparável.5 – Onde estava e o que fazia em Novembro de 1984 (quando o Blitz arrancou)?
Comprei o primeiro Blitz, e foi nesse mês que dei o meu primeiro concerto, como baterista duma banda cujo núcleo hoje se chama More República Masónica. Frequentava o Rock Rendez-Vous e sonhava ter uma guitarra eléctrica.6 – O que fazia antes? Quais os projectos anteriores a 1984 em que esteve
envolvido? E que tipo de projectos eram esses?
Já tinha tomado o gosto ao som transformado da guitarra e já existia o embrião dos SPQR, mas o início da minha actividade foi no fim de 1984. Poucos meses depois, estreiam-se os SPQR e eu entro para os Pop dell’Arte.7 – Marcou-o a liberdade artística dos Pop Dell’Arte? Abriu-lhe novas pistas?
As características do grupo tornavam-no ideal para mim. Mas penso o contrário: embora o grupo vivesse muito do génio criativo de João Peste, eu introduzi uma variedade de práticas experimentais, levei para o grupo mais do que trouxe. A força dos Pop dell’Arte estava em cada elemento ser uma força criativa com uma direcção própria, e todas coexistiam simultâneamente. Havia uma espécie de multiplicidade quase caótica de direcções. Mas foi no seu círculo de relações que conheci Nuno Canavarro e Nuno Rebelo, esses sim determinantes para os meus primeiros passos.8 – O Luís Maio classificou-vos como de «anti-rock». Concorda?
Anti-rock era eu, assumidamente… De resto, o grupo navegava livremente por uma infinidade de referências culturais, mas a sua postura, assim como os meios onde se movia, eram essencialmente rock. O que era fascinante era a sua abertura a quase tudo, era uma espécie de galáxia pop-dada.9 – Que aura era essa do Rock Rendez-Vous?
Era uma sala de concertos de Rock, não era uma galeria, um bar ou um armazém. Tinha ambiente e condições para concertos, e a sua escala e arquitectura eram perfeitas para dar uma boa exposição aos artistas e ao mesmo tempo permitiam uma grande proximidade do público. Vivi lá momentos muito especiais… era um sítio onde podíamos ver os nossos ídolos de perto e na semana seguinte pisar o mesmo palco. Tinha um camarim, bar, galerias laterais, mesas por baixo das galerias e uma área ampla central, em frente ao palco, que tinha cerca de 1m de altura. E era muito confortável.10 – Sobre os concursos de música moderna, concorda com o Jorge Dias (dos More República Masónica) que me disse uma vez que as melhores bandas eras as que venciam o prémio (de consolação) da originalidade; as que venciam o primeiro prémio, com a excepção dos Mler Ife Dada, caíam mais tarde no esquecimento?
Talvez… Mas na minha opinião só as primeiras 3 edições do concurso foram interessantes. Pelo final dos anos 1980 houve um declínio na cena musical, e o RRV teve um declínio paralelo. Já se via a cultura pimba no horizonte…11 – Que tipo de labuta lhe foi empregue na Ama Romanta?
Não havia funções fixas, e era Peste que fazia quase tudo, com ajuda ocasional dos que o rodeavam. Cheguei a meter-me num comboio em caixas de LPs e deixá-los à consignação em lojas de Aveiro e Porto… De resto, estava lá, acompanhava, ajudava no que fosse preciso.12 – Como analisa hoje o passado da editora: um selo que marcou uma diferença e, por isso, triunfou; ou uma estrutura que foi caindo no marasmo e que, como consequência, não sobreviveu?
Acima de tudo, cabe-lhe o grande mérito de ter mostrado o que é ser independente. A sua irredutibilidade artística, a sua (des)organização empresarial e a falta de acesso a estruturas de distribuição acabaram por torná-la insustentável. Mesmo assim editou à volta de 20 discos, entre eles algumas edições históricas, como por exemplo “Plux Quba”, que se tornou disco de culto na Alemanha e foi muito influente em toda a cena da música electrónia de Colónia, na 1ª metade dos anos 90 (e mais tarde reeditado por Jim O’Rourke), ou “Música de Baixa Fidelidade”, na minha opinião o ponto mais alto de toda a música electrónica em Portugal. Materializou as primeiras edições de Sei Miguel. E o “Divergências” e o “Free Pop”, claro, os discos mais influentes da editora.13 – Quando começou a tocar/interessar-te por música improvisada (desconheço
a sua concordância com o termo) e pela música ambiental?
Em 1990. Aprendi com Sei Miguel que a grandeza duma música que se faz no instante em que é tocada depende profundamente dum modo de ouvir que normalmente escapa aos praticantes da “música improvisada”, quase sempre enredados num jogo de relações que condiciona o resultado e práticamente o reduz a um estilo. Esse estilo, a “música improvisada”, não me interessa mínimamente. É demasiado previsível.
Pela música ambiental interesso-me desde 1985, dum dia em que li o texto da contracapa de “Discreet Music” e de ter achado uma ideia genial – a de uma música que, estabelecidas algumas regras, evolui por si própria e se torna uma presença independente da atenção que lhe é dada. Só muito mais tarde ouvi a música desse disco.14 – O que o moveu para essas formas de expressão? A saturação com formas mais convencionais?
Tirando o repertório dos Beatles que eu tocava quando tinha 12 anos, nunca lidei com “formas convencionais”. Sempre achei que já há tanta gente a trabalhar nelas que seria mais produtivo eu fazer outra coisa (Cage: “We get more done by not doing what someone else is doing”). No caso da improvisação foi a curiosidade e o desafio duma prática nova. A música ambiental foi a revelação de um caminho a percorrer. Mantive actividade em ambos esses percursos até hoje.15 – Em que medida o projecto SPQR foi determinante no que veio a fazer ao longo do seu percurso individual?
Bem, SPQR foi a formação com que inciei um percurso como guitarrista e compositor. Quando percebi que os outros elementos preferiam seguir outros caminhos, passei simplesmente a usar o nome Rafael Toral e continuei. As primeiras peças de “Sound Mind Sound Body” têm escrito SPQR na cassette em que foram gravadas, mas era já trabalho a solo… portanto é uma continuação.16 – Esse afastamento das convenções permitiu-lhe uma aproximação, enquanto músico, ao mundo das artes plásticas? Qual tem sido a sua relação com esse domínio artístico?
As duas coisas não estão relacionadas. Comecei a trabalhar em vídeo em 1994 e mantive uma actividade esparsa, mas regular, nessa área. Usava os videos nos concertos, mas também apresentava instalações video. A participação no Sonic Boom, exposição de sound-art em Londres (em 2000, com João Paulo Feliciano) marcou um novo impulso para mim nesta área, e comecei a elaborar instalações que geralmente têm um comportamento imprevisível e são interactivas, como por exemplo “Echo Room” (apresentada na Bienal de Torino a convite de Christian Marclay e mais tarde no ICC em Tokyo). Tem sido um percurso fascinante, mas ainda curto e com muito trabalho pela frente…17 – Qual o fim que liga as várias instalações vídeo e multimédia de que é autor?
Cada uma tem os seus, não sei se se pode procurar isso…
Mas posso dizer, em abstracto, que o que mais me interessa nas instalações como forma artística é, por um lado, a permanência da sua presença – ao contrário de um concerto ou de um disco, que são experiências mais efémeras. Uma presença que se relaciona com um espaço e que é permanente, transferindo o efémero para o visitante, que chega e parte. Também me interessa uma dimensão generativa ou interactiva nesse tipo de trabalhos, que tenham um comportamento imprevisível ou que reajam a variáveis do ambiente.18 – No início da década de 90 chegou a liderar concertos que reuniam dez guitarristas, como a que ocorreu na Galeria Monumental. O que procurava nesse tipo de prestações?
Bem, fiz só um (e depois vários em quarteto)… na altura estava muito envolvido com a composição escrita em partitura e estudava pormenorizadamente partituras de John Cage, cuja influência para mim foi enorme (cheguei a gravar um disco com versões de peças dele e com sua autorização, intitulado “Love”, mas nunca o editei). Estava inspirado pela ideia da obra modular, ou seja, composta por um número de partes que se podiam combinar de várias maneiras. Uma das peças que toquei tinha 40 módulos, que podiam ser tocados a solo uns após outros e duraria 2 horas, ou podiam ser tocados por 40 pessoas, todos ao mesmo tempo e duraria 4 minutos… Fiquei muito grato aos músicos que participaram.
Em 1995, com o “Wave Field”, assumi que passaria a trabalhar com o som como matéria prima e coloquei as partituras na prateleira.19 – O Johnny Guitar foi um importante espaço para o desenvolvimento da sua carreira a solo? Que memórias guarda dessa sala?
Penso que não. Foi importante por ser a única sala em Lisboa com aquelas características, mas a arquitectura não ajudava nada. Não era confortável para ninguém. Teve também o seu declínio, na segunda metade da sua vida, mas presto homenagem ao grande esforço que foi feito para pôr aquela sala de pé e mentê-la. E valeu a pena. Guardo a memória de um concerto de improvisação a solo absoluto, o que para mim foi um feito arrojadíssimo e nunca mais consegui voltar a fazê-lo (mas vou).20 – Considera que, na altura, foi inovador em Portugal ao fazer um álbum dominado por música ambiental, como é o caso de «Sound Mind Sound Body»?
Já na altura isso não me preocupava. Desde 1992 (ano da minha primeira visita a Nova Iorque, da minha saída dos Pop dell’Arte e da morte de Cage) ficou muito claro para mim que o valor dum trabalho deve ser absoluto, global, senão não vale a pena. É demasiado fácil fazer um brilharete neste buraquinho que é o nosso país. Para encetar qualquer empreendimento artístico, para mim a única escala válida para aferir o seu valor é o mundo. Portugal é-me completamente irrelevante.21 – Como se sentiu no papel de produtor de álbuns dos Tina and The Top Ten e dos Supernova que praticavam um som direccionado para as canções ao qual já se tinha distanciado?
Eu costumava dizer que enquanto estava nos PdA tinha os pés no rock mas olhava para fora, e depois de ter saído fiquei com os pés fora mas a olhar para dentro. Sempre fui um músico ligado ao rock, por uma espécie de herança espiritual. Em tudo o que faço há uma marca, uma impressão digital de rock. O trabalho de produção começou ainda dentro dos PdA (ainda hoje penso como o Free Pop seria diferente se eu não tivesse 18 anos…) em todos os trabalhos de produção que fiz houve uma forte identificação estética e também uma certa paixão. O “Teenage Drool” foi feito com uma cumplicidade muito grande com o grupo e o resultado ainda hoje ouço com prazer. O último trabalho desse tipo foi com os Clockwork, talvez o meu preferido. Mas tudo isso foi vivido intensamente e por dentro, sem “distância”.22 – Acha que se foi afastando dos territórios ambientais que caracterizaram o seu primeiro álbum, «Sound Mind Sound Body»?
Não, quase todo o meu trabalho, de Wave Field a Violence of Discovery… é essencialmente ambiental. Para mim é um modo de estar, um modo de ouvir, mais do que um estilo. É um caminho que sigo.23 – A Bolsa Ernesto de Sousa foi o impulso para o início da sua carreira
internacional?
Definitivamente. Foi a partir daí que tudo aconteceu. Só nesse ano (1994) fui à Dinamarca, Alemanha e novamente aos Estados Unidos…24 – Sentiu uma grande responsabilidade quando tocou pela primeira vez com uma figura já relevante como o Jim O’Rourke?
Nada disso. Isso foi em 1995, nessa altura ele tinha apenas um disco ou dois. Um deles era “Remove the need”, um trabalho de guitarra do qual me sentia próximo. Ele era uma figura com um percurso muito semelhante ao meu – trabalho experimental com guitarra e “drones”, produção e composição. Após 10 anos de trabalho em isolamento, foi uma revelação descobrir uma pessoa tão próxima de mim, e desde aí tornou-se um dos meus melhores amigos. Os dois juntos estreámos “Guitar too for four” de Phill Niblock nos EUA.25 – Seguiu-se um rol interminável de actuações com figuras tão ilustres como o Lee Ranaldo, o Phill Niblock ou o John Zorn. Isso foi determinante para o seu reconhecimento internacional?
Pelo contrário, o facto de artistas conhecidos terem querido trabalhar comigo é em si um reconhecimento. Há uma certa pequenez de espírito nessa ideia que aparece regularmente. Se um trabalho não tem valor, não é por o seu autor ter tocado com A ou B que vai ser reconhecido. Por outro lado, se o Zorn me convidou a tocar com ele foi porque a qualidade do meu trabbalho lhe interessava. O que foi realmente determinante para o meu reconhecimento internacional foi a reedição do “Wave Field” em Chicago, que foi considerado um dos 100 melhores discos publicados nos EUA em 1998. Esse trabalho vale por si próprio, e é sempre o valor do trabalho que é reconhecido, não as relações sociais do autor…26 – A música improvisada fê-lo preocupar-se mais com o conceito de adaptação da música ao espaço onde toca?
A relação da música com o espaço, aliás, de qualquer forma artística, sempre me preocupou. Poucas vezes se consegue um adequamento perfeito da arte com o seu contexto, mas vale sempre a pena fazer o máximo possível. Há muita gente que não pensa nisso. Recentemente, também estou cada vez mais interessado em resolver/questionar aspectos performativos da música ao vivo, a relação entre a presença física de um músico e o som que está a ser produzido.27 – O trabalho com o silêncio torna-o progressivamente mais exigente com as subtilezas?
O silêncio pode ser cheio de som, pode ser o infinito… a maior parte do meu trabalho tem-se baseado em transformações que ocorrem no interior dos sons, logo o silêncio não tem sido grande objecto de trabalho. Mas em improvisação o silêncio torna-se muito importante. É quase mais importante o que *não* se toca do que o que se toca. Estou a mudar lentamente a minha abordagem à composição, antes subtractiva (retirando matéria a sons contínuos), para uma aditiva (o silêncio como base e presença permanente, povoado por acumulação de eventos sonoros).28 – Tem aprendido muito ao trabalhar com o Sei Miguel?
Este meu interesse pelo silêncio e o trabalho com Sei Miguel estão íntimamente ligados. Sei Miguel é um grande mestre do silêncio. É um elemento absolutamente essencial em todas as suas composições. Todos os músicos que com ele trabalham aprendem a *tocar* silêncio, o que é muito difícil. Sei Miguel é talvez o artista que conheço com maior desproporção entre o seu mérito e o seu reconhecimento (excepto talvez uma Dulce Pontes, mas pelas razões inversas). É um génio absoluto, o seu talento é de topo a nível mundial. E mal se sabe no mundo que ele existe…29 – Por que é que o trabalho dos No Noise Reduction não se prolongou?
O encontro com Paulo Feliciano em 1990 foi muito importante, catártico e enriquecedor. Depois de alguns anos de actividade NNR, os nossos caminhos deram algumas “voltas”, e o trabalho em unidade de colaboração deixou de ser praticável com regularidade. No entanto, mantivemos sempre um contacto estreito, e muitas têm sido as nossas colaborações. Desde a produção de Teenage Drool ao Houseware Experience, passando pela Expo 98, Sonic Boom, Voyager… e mais projectos virão. O nome No Noise Reduction não está posto de parte, apenas faz mais sentido assinar certo tipo de trabalhos com os nossos nomes. Há-de voltar, mais cedo do que se pensa…30 – É ingrato praticar uma sonoridade tão específica num país como Portugal, ou é pior que isso?
Ingrato? É quase impossível. Só faz sentido investir criatividade a nível planetário, só esse espaço é suficientemente aberto. O ponto (muito) fraco de muitos músicos portugueses é justamente situarem-se com o panorama português como mapa de referência. É demasiado pequeno e estreito. E fatalmente garante uma irrelevância quase completa. Por outro lado, a “globalização” da mediocridade mediática não ajuda nada, e a comunicação social em geral faz o que pode para afastar o público dos criadores.31 – O que o segura como residente de um país como o nosso?
As pessoas, o clima, a serenidade, a luz, a comida… e Lisboa, que é uma das cidades mais belas do mundo. É um excelente sítio para viver. Apesar da profunda fealdade de muitas facetas deste país, o seu encanto talvez seja superior…32 – Ser o músico português que aparece mais na revista Wire confere-lhe algum orgulho especial?
Nem acho que seja uma publicação tão importante assim, acho isso uma fantasia. Aliás, nem aprecio aquele tipo de redacção. É muito prudente e superficial. Orgulho-me sempre que o meu trabalho é alvo de jornalismo de qualidade. Tanto faz que seja um site em Santiago do Chile ou um fanzine australiano… Orgulho-me de trabalhos em profundidade de revistas como a Halana (USA) ou a Blowup (Itália). E em Portugal, há um pólo de jornalismo muito interessante, em aputadasubjectividade.pt.33- Ainda usa guitarra eléctrica?
Tenho quatro guitarras, e tenciono continuar a usá-las. Neste momento estou a utilizar o computador como instrumento principal, e a primeira matéria que uso para confrontar o silêncio são ondas sinusoidais – som puro, sem harmónicos. Espero evoluir para formas de onda mais complexas e inevitávelmente regressarei à guitarra mais à frente. A guitarra é uma presença espiritual permanente. Tudo o que faço é como guitarrista. Mas por vezes não é preciso usar uma guitarra, outros meios são mais adequados. O meu último disco da “linhagem principal”, “Violence of Discovery and Calm of Acceptance” é todo ele guitarra, e logo a seguir saiu “Early Works”, que também o é. Nesta fase de agora, há dois discos de “Harmonic Series” (já com som sinusoidal mas ainda na estética “drone”), um deles a editar em Tokyo, e estou a começar trabalho novo, uma série chamada “Space Studies” e que culminará num novo trabalho de guitarra, o sucessor de “VDCA”.34 – O recurso à componente electrónica continua a ser progressivo?
A electrónica é uma dimensão absolutamente essencial em todo o meu trabalho, sempre foi. Não existe nenhuma progressão no sentido de aproximação ou afastamento de esta ou aquela prática, antes existem trabalhos diferentes que requerem abordagens específicas à tecnologia empregue… Se pensarmos em ski aquático temos uma boa imagem dessa progressão, a relação do rasto ondulante do esquiador com o rasto linear do barco… é feita de afastamentos, cruzamentos, paralelismos, mas sempre vão para o mesmo lado, é uma coisa só.35 – Qual foi para si o momento-chave do seu percurso enquanto artista?
Se tivesse que escolher só um, seria o “Wave Field”. É uma obra fulcral em todo o meu trabalho, e a sua reedição em Chicago em 1998 foi decisiva para a sua visibilidade internacional. À distância de 10 anos, e depois de ter ouvido tanta música de “guitar drone”, percebo melhor o seu valor. Nunca ouvi nada parecido com aquilo, nem antes nem depois – passe a imodéstia…36 – Qual é o balanço que faz da música em Portugal dos últimos 20 anos?
A música é cultura, que (não só em Portugal) é sistemáticamente erodida e empobrecida. A nível global encontro um certo empalidecimento, pelo menos na maneira de estar das pessoas. Menos convicção, menos vitalidade, menos valor(es). A evolução da televisão nos últimos 10 anos tem sido devastadora. Claro que, por outro lado, a informação é infinitamente mais rica e fluida, as estruturas são melhores, e o nível de exigência mesmo assim é agora muito superior a todos os níveis. Os “pólos de excelência” são mesmo excelentes. Portanto há uma espécie de acentuação do desnível entre a mediania, que vai descendo a uma mediocridade cada vez mais profunda, e a excelência, que quando existe se afirma cada vez com mais força, visão e alcance.
Há 20 anos ainda a nossa sociedade era muito jovem, o 25 de Abril tinha sido apenas 10 anos antes. Acho que ao longo deste tempo se criou um modelo, à nossa escala, da cena musical global, com representação nacional de quase todos os sub-géneros e correntes estéticas que existem. Apareceram criadores geniais, como Nuno Canavarro, António Ferreira, Sei Miguel. Músicos que conseguiram uma exposição internacional significativa, como Carlos Zíngaro, Manuel Mota (que já foi várias vezes elogiado por Derek Bailey). Fenómenos como o aparecimento do Hip-hop ou o movimento rock nas Caldas da Rainha, Telectu e a introdução do minimalismo… Mas não penso ter uma visão suficientemente integrada para me permitir fazer um balanço abrangente. Aquilo que eu realmente gostaria era de acreditar entusiásticamente em muitos mais músicos deste país. Só me entristece, que se contem pelos dedos de uma mão…Share the love
Related
-
18Mar2004
- share:
Search
Upcoming Concerts
There are no dates yet.
About
Rafael Toral (Lisbon, 1967) has been exploring the connection between sound and music since he was a teenager. He pioneered blends of drone minimalism with rock as in Wave Field, the free-jazz inspired experimental electronics of the Space Program, and has recently synthesized all the above on guitar-based Spectral Evolution (Feb. 2024), his new major album.
©
2023 Rafael Toral. All Rights Reserved.