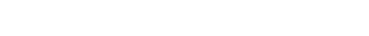-
02Mar1999
- share:
-
Monitor
por Rui Eduardo Paes, 2 Mar 1999 (Lisboa, Portugal)
«Aeriola Frequency» é «tocado» exclusivamente com um «delay», consistindo num «loop» que continuamente se alimenta a si próprio. Desde há algum tempo, aliás, que a sua música parece estar cada vez menos ligada à guitarra. Os «gadgets» electrónicos, o sintetizador modular e o theremin vêm substituindo o seu instrumento principal. O que se passa?
Penso que para mim, a guitarra é incontornável. Como fonte sonora inesgotável e como ícone cultural, e também pela minha formação ligada ao rock, este instrumento tornou-se numa presença constante. Agora isso não faz com que me veja como “guitarrista”, ou seja, uma pessoa que toca guitarra. Quando estou a fazer música, posso gravar um “take” de guitarra numa tarde e depois estar 3 meses a trabalhar nesse material, com processamentos diversos e operações de montagem e mistura no computador. O crítico Bill Meyer descreveu a minha peça electrónica “Liveloop” com esta expressão genial: “A guitarless composition for guitar effects”. Na verdade, tão longe fui na transformação electrónica dos sons da guitarra que dei por mim a fazer coisas para as quais a guitarra era já irrelevante. Lembremo-nos, que, do ponto de vista electrónico, uma guitarra é como um microfone. “Cyclorama Lift”, a peça que constitui “Aeriola Frequency”, é baseada em feedbacks e ressonâncias – coisas, afinal, bem do mundo dos guitarristas. Podia ter feito “Aeriola Frequency” com a guitarra, mas eu queria concentrar-me na ressonância pura, e a guitarra acabaria por ser um entrave, mais do que um meio para lá chegar. Digamos que fui directo “ao assunto”.
Quando uma guitarra entra em feedback, existe um circuito de ressonância que entra em auto-oscilação, gera um tom, uma onda, logo comporta-se como um sintetizador rudimentar. Posso fazer muitas coisas com feedback de guitarra, mas se quiser trabalhar com oscilação e dar um passo à frente, porque não trabalhar directamente com osciladores e moduladores? Por acaso, o uso principal que dou ao meu sistema modular é o processamento de sons… de guitarra. Digamos que por vezes tenho necessidade de ultrapassar completamente o instrumento.
Define o seu trabalho como música ambiental, mas refere-se a esta aludindo a um modo de escuta («com níveis variáveis de atenção», como acrescentas no «press release» de «Aeriola Frequency»). Ou seja, não enquanto uma tipologia da música em si e por si mesma, mas consoante o modo como é ouvida. Gostaria que me falasse sobre o modo como entende o ambientalismo…
O modo como a música é ouvida faz parte da própria definição de Ambient, tal como a enunciou Brian Eno. A música ambiental deve ser capaz de acomodar diferentes níveis de atenção. É o princípio-chave “as ignorable as interesting”. Claro que o uso da música não a define, mas esta enuncia-se como sendo passível de ser usada de diferentes modos, especialmente a possibilidade de abdicar duma fruição musical consciente, tornando-se a música uma presença sonora integrada no ambiente acústico. Do outro lado há a necessidade de oferecer uma experiência de escuta mínimamente rica, sob pena de ficarmos com um papel de parede vazio e estéril. É importante que haja alguma complexidade de informação, mas ao mesmo tempo uma certa sensação de imobilidade. Um curso de água, por exemplo, tem padrões de turbulência infinitamente complexos, mas se nos sentamos à sua beira parece-nos que não está a acontecer grande coisa. Tento usar isto como um modelo para a música.
Para mim, a música é uma actividade do cérebro, uma experiência estética sobre o som. Para que exista uma tal experiência musical, é irrelevante se os sons que escutamos tenham ou não sido produzidos com intenção musical. Podemos ouvir um disco ou ir a um concerto, mas também podemos ouvir musicalmente um avião a passar. Nenhuma dessas experiências é mais válida do que a outra em termos musicais, a única diferença é que o avião não tencionava fazer música.
Há sempre um ambiente sonoro, um “pano de fundo” sónico nas nossas vidas e tento sempre que as minhas peças possam funcionar como um fundo sonoro, de modo que as pessoas possam livremente alternar entre uma escuta “musical” e uma escuta “não musical” – ou seja, que esta música possa ser ouvida atentamente mas que também possa estar no mesmo plano que o zumbido das ruas ou o murmúrio dos bosques. Interessa-me muito esbater essa fronteira, poder ouvir sons do ambiente como música e música como sons do ambiente.
A improvisação desempenha um papel importante na sua música, mas sei que tem uma relação difícil com a chamada música improvisada. Diga-me porquê e explique-me como concilia a linguagem da improvisação (e digo «linguagem» porque julgo haver uma adesão estética sua, mais do que uma apropriação de técnicas e processos) com algo que, em princípio, lhe é estranho, apesar de excepções como os AMM: o ambientalismo. A verdade é que parece ter um défice em ambos esses domínios: quando improvisa mais é menos ambiental e quando cria ambientes musicais parece deixar de ser um improvisador. Basta, de resto, comparar «Chasing Sonic Booms» com «Wave Field» e este «Aeriola Frequency». Como é, então?
Se existe uma “linguagem da improvisação”, e se esta tem técnicas e processos, deve ter a ver com a tal “música improvisada” que, sendo assim, será um “estilo” musical, mais do que um exercício de improvisação em si. Improvisar é resolver situações em tempo real. Se existe um problema para resolver, há que equacionar esse problema e descobrir a solução. Ou seja, essa solução há-de ter uma forma, mas enquanto a solução não é encontrada não se sabe que forma vai ter! No estilo “música improvisada” as soluções estão já codificadas num âmbito formal pré-estabelecido. Portanto, a forma primeiro, a solução depois. Isto torna a música muito mais previsível e nada tem a ver com improvisação. Continuo a achar importante a distinção que Jim O’Rourke faz entre “improvisar” e “tocar música improvisada”. Mas não tenho uma relação difícil, isso não tem mal nenhum. Só não digam que é que estão a “improvisar”…
A improvisação implica uma predisposição para lidar com a indeterminação, a aceitação de acontecimentos imprevisíveis, a abertura a muitas e diferentes variáveis. A rapidez com que por vezes é necessário reagir, a surpresa de situações novas, a descoberta instantênea de novos sons, tudo isso tem uma carga de um certo dramatismo e mesmo de violência, e o desenrolar desses acontecimentos sobre um palco tem algo de espectacular. Afinal, é um espectáculo o que se está a fazer, e como tal, requer atenção. Num palco existe uma situação algo teatral – há que inventar soluções perante um público, mas não é só no encontrar soluções que está o seu interesse. Espera-se que essas soluções sejam implementadas ao vivo duma forma estéticamente interessante e estimulante, senão seria uma espécie de “workshop” em palco. Há um factor de aprendizagem na prática da improvisação, mas porque é que as pessoas haviam de pagar o bilhete para ver isso? Sinto a responsabilidade de dar sempre ao público algo que “valha a pena”, e fazer isso em improvisação é muito difícil. Só consegui fazer isso duas vezes, em concertos de improvisação a solo.
Tudo isto remete-nos um pouco para longe dum uso ambiental da música que daqui possa resultar, e daí também a violência que se encontra disseminada pelo “Chasing Sonic Booms”. Ainda assim, não é possível separar as coisas, em “CSB” há também improvisação com uma forma práticamente ambiental, o “Wave Field” ao vivo tem muito de improvisação e o “Aeriola Frequency” é inteiramente improvisado na sua execução. Não vejo “défice” nenhum, está tudo integrado… Mas, salvo excepções especiais, não posso pretender realizar música puramente ambiental ao vivo, o ambientalismo e o palco são incompatíveis. Para uma fruição ambiental verdadeira temos que ter a possibilidade de nos esquecermos que estamos a ouvir música, e não é de certeza isso que fazemos quando decidimos ir a um concerto!…
Há alguns (deliciosos, deverei acrescentar) paradoxos na sua abordagem da música, a começar pelas suas próprias referências, que têm as origens mais díspares – John Cage, Alvin Lucier, Phill Niblock, Brian Eno, Jim O’Rourke, Sonic Youth, My Bloody Valentine… A sua música tem ingredientes, para mais, que dificilmente se julgariam conciliáveis: rock de guitarras, minimalismo, «noise», música electroacústica… O que o motiva em tal diversidade de coordenadas? Trata-se simplesmente da aplicação criativa da multiplicidade dos seus gostos musicais ou decorre de um plano mais elaborado e consciente? Toca aquilo que ouve ou pretende afirmar algo em concreto?
Não vou discutir aqui uma análise de “ingredientes” da minha música, mas… não vejo esse grupo de referências como uma multiplicidade de coordenadas, como se eu tentasse gerir um grupo de influências incompatíveis entre si. Para mim tudo encaixa perfeitamente, como uma luva. Porém, não sejamos reducionistas ao ponto de pensar que o que eu faço resulta duma soma de ingredientes.
Ao longo do nosso percurso encontramos coisas que nos interessam, ideias que vale a pena aplicar e desenvolver. Naturalmente, integrei coisas muito diferentes de cada uma dessas pessoas ou grupos. Nuns casos a um nível mais racional, noutros a um nível mais emocional. Acho que a “influência” ou inspiração de alguém se torna potencialmente mais interessante quando é assimilada ao nível conceptual. Geralmente, quando falamos em influências, dizemos que “x” soa a “y” e isso revela uma influência a nível formal. Podemos ser altamente inspirados por alguém, mas não precisamos soar como uma imitação. Podemos ir em qualquer direcção em termos formais, uma vez assimilada a ideia de base. Noutras palavras, as mesmas ideias podem ser expressas numa variedade de formas e abordagens estáticas.
Fez parte dos Pop Dell’Arte e de várias formações de Sei Miguel, com quem, aliás, continua a colaborar. O que ficou dessas experiências na sua música?
Os Pop dell’Arte eram um grupo muito aberto, cujo génio estava na sua capacidade de integração de referências, formas e abordagens díspares ou mesmo incompatíveis. A certo ponto assumi um pouco o papel de “sabotador” de serviço, mas na verdade era impossível sabotar aquela música, um caldeirão capaz de absorver práticamente tudo. O resultado era uma tensão constante entre os elementos que era muito enriquecedora. Acho que levei mais para os Pop dell’Arte do que trouxe de lá. Ficou o envolvimento com a esfera rock, embora na altura a minha postura fosse claramente anti-rock.
O trabalho com Sei Miguel é sempre uma experiência fascinante, cada minuto de trabalho com ele vale ouro. Não teria sido muito capaz de me aventurar em experiências de improvisação livre sem o que aprendi com ele. Infelizmente, não temos trabalhado muito juntos. O rigor que ele inspira na gestão do tempo e do silêncio é uma aprendizagem preciosa. Ele tem muito azar, principalmente por ser este o país em que tenta trabalhar. Espero poder assistir brevemente ao reconhecimento do seu génio a nível mundial.
Grande parte do seu trabalho é feito em solitário. A sua única colaboração permanente é com João Paulo Feliciano, nos No Noise Reduction. Entende este duo como um projecto paralelo, algo que desenvolve à parte?
Os No Noise Reduction são um espaço de acção em cada um de nós faz coisas que não faria sózinho. Temos personalidades e atitudes muito diferentes e isso introduz uma química especial no nosso trabalho. Há uma tensão saudável, ao mesmo tempo que somos muito solidários. Há uma tendência para trabalharmos em situações específicas.
É convidado a tocar no estrangeiro, sobretudo nos Estados Unidos, os seus discos são editados lá, «Wave Field» foi mesmo considerado um dos 100 melhores álbuns publicados em 1998 nos EUA pela Amazon.com e representa Portugal na Music in Movement Electronic Orchestra, para além de já ter actuado ao vivo com nomes como Jim O’Rourke, John Zorn, Phill Niblock, Rhys Chatham, Jean-François Pauvros, entre outros. Como enfrenta este súbito sucesso fora de portas?
De vez em quando, compro uma limusine! 🙂
Não quero parecer pretensioso, mas o meu trabalho é sujeito a um rigor e a um nível de exigência enormes. Acho que as pessoas (fora daqui, claro) souberam reconhecer isso. É gratificante saber que o que faço é apreciado por pessoas que admiro, e também que existem pessoas que compram os discos e os usam nas suas vidas.
Não sei, acho isto natural. Também é uma questão de marketing, isso do sucesso. Ainda hoje acho que o “Sound Mind Sound Body” podia vender milhões, se houvesse uma estrutura para o promover.
Quando tentava encontrar uma editora para o “Sound Mind…” sentia-me completamente isolado, embora soubesse que havia um público que se podia interessar pelo meu trabalho, assim como outros músicos que teriam interesses em comum comigo. Foi um longo processo de reconhecimento gradual, mas foi com o impacto da edição americana de “Wave Field” que de repente o meu trabalho ganhou uma visibilidade que até aí não tinha.
Tem desenvolvido uma actividade complementar como produtor e, curiosamente, apenas de grupos rock. O rock, aliás, parece ser uma obsessão sua, apesar de não o praticar. A que se deve isso?
Por acaso, nunca calhou eu produzir um trabalho não ligado ao rock, mas gostaria… O trabalho de produção é esgotante e muito exigente, é necessária uma atenção absoluta a todos os ínfimos pormenores.
Tenho-me retirado um pouco dessa área, por esse motivo. Quero concentrar-me no meu trabalho pessoal. Ainda assim, finalmente, estou agora envolvido numa produção já há muito aguardada, o novo disco dos Clockwork. Estou muito optimista em relação a este trabalho, acho que vai ser um disco excelente. O “drone-rock” deles é pioneiro em Portugal.Mas o rock não é nenhuma obsessão. Faz parte.
Ganhou uma bolsa multimédia que o levou a Nova Iorque, onde «estagiou» na Experimental Intermedia Foundation e na Faculdade de Arte Electrónica de Troy e apresentou um projecto que associava som e imagem. Era de supor que continuasse este tipo de investimentos artísticos, mas tal não sucedeu. A única excepção recente terá sido a manipulação de luzes através da música numa actuação dos No Noise Reduction na primeira parte de um concerto dos Sonic Youth em Lisboa. Porquê?
Tenho mantido uma actividade regular de produção em video e ponho sempre um dos meus vídeos quando toco ao vivo. O projecto da Bolsa era baseado em interacções com osciloscópios, aparelhos que servem para visualizar uma onda sonora, logo era uma reflexão visual sobre o som. De qualquer modo, sou um músico, acima de tudo. Não tenho pretensões a videasta nem a artista multimédia, embora possa realizar trabalho nessas áreas, como aliás tenho feito. O trabalho de luz no concerto da Aula Magna deriva muito mais do trabalho do Paulo Feliciano que do meu.
Seguindo uma tendência cada vez mais generalizada, tem-se interessado muito particularmente pelas máquinas analógicas, mas também utiliza o computador – este, de resto, é-lhe um equipamento imprescindível, se não para tocar, pelo menos para trabalhar posteriormente a música que faz. De uma maneira ou de outra, não me parece que a cibernética musical, por assim dizer, seja uma questão para si. A tecnologia não lhe interessa, mas o que pode fazer com ela. É assim? E se é, porque não envereda também por situações acústicas?
Pode-se enveredar por uma trabalho de pesquisa sónica com instrumentos acústicos, mas isso implica uma abordagem muito avançada, tinha que ter tido outro percurso. Outras pessoas há que percorrem esses trilhos. Como dizia Cage com imensa sabedoria, “we get more done by not doing what somebody else is doing”.
Tendo uma ideia para concretizar, vou necessitar dum dispositivo tecnológico que me permita trabalhá-la. Pode ser um software complexo ou um distorsor ferrugento, mas o importante é que os meios sirvam os fins, e não o contrário. Pode ser importante usar a tecnologia, mas é imperativo não ser usado por ela. É tão vasto o campo de opções possíveis que é demasiado fácil perdermo-nos. É muito frequente ver pessoas que compram um sampler e acham que podem fazer tudo mas acabam por dispersar-se, perdem o foco. É essencial decidir o que não queremos fazer, deixar opções de lado, delimitar o campo de acção. Eu pessoalmente gosto de trabalhar num campo de opções restrito, de modo a que o foco seja o mais agudo possível. Quanto maior for a limitação, mais longe se chega. Prefiro progredir “em flecha” do que em “mancha de óleo”.
O seu «expertising» no que respeita às condições técnicas da audição/recepção televisiva e os teus conhecimentos sobre acústica reflectem-se claramente música que faz – acho mesmo que a sua perspectiva não é propriamente «musical», no sentido convencional, mas sonora. É o que me sugere, pelo menos, a forma como trabalha os harmónicos, as ressonâncias, o ruído. Concorda?
O princípio da música para mim é o som. Tem que existir um som a priori antes de haver música. A música resulta das transformações a que esse som é sujeito, ou das formas que se podem construir tendo-o como matéria-prima. Ou seja, vejo a criação musical como um processo que se passa no interior da própria matéria que constitui a música. É um pouco por isso que me interessam sons de longa duração. Prefiro trabalhar com um único som em cujo interior evoluem acontecimentos musicais. Não me interessa o “tocar” convencional, é sempre preciso parar um som para atacar o seguinte, e quanto mais rápido, menos interessante se torna.
Share the love
Related
-
02Mar1999
- share:
Search
Upcoming Concerts
There are no dates yet.
About
Rafael Toral (Lisbon, 1967) has been exploring the connection between sound and music since he was a teenager. He pioneered blends of drone minimalism with rock as in Wave Field, the free-jazz inspired experimental electronics of the Space Program, and has recently synthesized all the above on guitar-based Spectral Evolution (Feb. 2024), his new major album.
©
2023 Rafael Toral. All Rights Reserved.